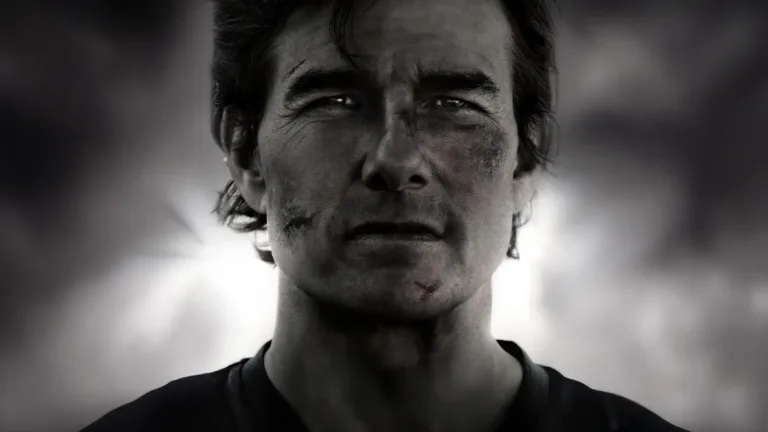Por Helena Zonetti Rodrigues
O mais esperado filme de 2023 reflete de maneira cômica e crítica os prós e contras de um universo cor-de-rosa. Barbie representa, em suma, as demandas ideais e mercadológicas da mulher frente ao real. A personagem entra numa busca dialética de tornar-se mulher quando descobre que não deseja mais ser produto.
É preciso ressaltar, Greta Gerwig, diretora de Barbie, já demonstrava seu interesse pelos desejos da mulher desde sua atuação em Frances Ha (2012), quando representava os conflitos duais em que o feminino se localiza: as demandas da sociedade de um lado e do outro o desejo da mulher em poder trilhar as próprias escolhas. Como diretora, o mesmo aparece com as personagens femininas questionadoras do status quo em Lady Bird (2017) e Adoráveis Mulheres (2019), por exemplo. Em 2023, a diretora associada ao cinema indie desponta na direção e estreia de um blockbuster crivado de profundidade.
Traço marcante da modernidade, a linguagem metalinguística apresentada logo no início do filme com narrativas em off trata da construção cinematográfica da obra e convida o espectador para fazer parte do processo de criação. O filme é mais representação do que coisa em si, produto “acabado”. Seu sentido é dado a partir da interação com o espectador. O cinema é tão “sujeito” como aquele que o vê. Esta característica se alinha com a Barbie “estereotipada” (Margot Robbie) ao tomar consciência da repetição e perfectibilidade de seu reino (Barbieland), tão díspar do mundo real (patriarcal). Assim emerge a procura da boneca de ser no mundo real não mais produto e objeto e sim sujeito que cria sentido em seu entorno, se tornando humana.
Sua recusa em ser produto inicia quando seus pensamentos recorrem à finitude da existência e ganham representação na tela quando se nega a entrar na clássica caixa de boneca, sua embalagem, invertendo a lógica do mercado. A partir deste momento, Barbie está “fora da caixa”, processo que a leva à aceitação de suas fragilidades e inicia seu resgate mnêmico ao que ela fora em relação às duas mulheres humanas do filme, mãe e filha: Gloria (America Ferrera) e Sasha (Ariana Greenblatt). Assim começa o que de início é uma escolha necessária, seu questionamento de todo o funcionamento de Barbieland.
O cenário do filme foi construído sublimemente da maneira mais fiel possível aos produtos Barbie já lançados, rememorando a intenção de cenário do filme Playtime (1967) de Jacques Tati, de construções ambiciosas. Temos a casa dos sonhos de Barbie, a praia e os espaços a serem percorridos para chegar ao mundo real, entre outros, trazendo uma sensação de nostalgia e vivência lúdica. A trilha sonora conta com grandes cantoras da atualidade, como Dua Lipa, Billie Eilish, Nicki Minaj, Lizzo e outras. Barbieland é, ao contrário do “mundo real”, um universo exclusivamente feminino, ideal e fantasioso, em que os homens-bonecos “Kens” e Allan (Michael Cera) são vistos como acessórios das Barbies que possuem direitos amplos destinados somente a elas. A Constituição é não-isonômica em relação aos “Kens”, motivo que leva Ken, interpretado por Ryan Gosling a transformar Barbieland em “Kenland”, que acaba de certo modo levando as bonecas a serem somente acessórios (aqui, o ridículo da masculinidade frágil emerge). Barbieland e Kenland se desvelam como representações utópicas e ideais-excludentes do feminino e masculino, opressoras (ora do feminino, ora do masculino). O caminho no qual Barbie e Ken se enredam é aquele do tornar-se humano à margem da norma e dentro do desejo. Desejar ser-humano, somente-humano, é ousar perder ou sair do mundo maravilhoso cor-de-rosa, mas pincelar a realidade conflituosa com medidas de fantasia.